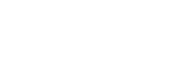Há duas folhas de pagamento no Estado brasileiro. A oficial, que remunera servidores. E a subterrânea, que financia algo bem mais custoso: o ego de quem manda. A primeira passa por auditoria. A segunda por curtidas, placas, solenidades, relatórios com o nome do chefe em negrito, fotos em inaugurações e equipes tratadas como adereços. É uma despesa invisível, mas que drena motivação, paralisa decisões e transforma políticas públicas em peça de teatro.
Cheguei a essa conclusão durante a minha pós-graduação em Gestão Pública e Marketing. Eu precisava estar escrevendo um trabalho sobre comportamento organizacional. Meu coração dizia que eu deveria estar descrevendo a anatomia emocional da máquina pública: um ecossistema onde a autoridade formal é secundária e a vaidade é o verdadeiro centro de gravidade.
Chamamos de vaidade o que, na prática, funciona como diretriz administrativa: dirigentes que tratam cargos como espelhos, confundindo função com identidade. Não lideram equipes, encenam protagonismo. Não constroem políticas, constroem narrativas. O resultado não é uma gestão, mas uma selfie institucional: o órgão público vira palco, a sociedade vira plateia e o dinheiro público banca iluminação, figurino e roteiro.
Esse desvio tem uma lógica brutal. A literatura ensina que reconhecimento motiva e que poder seduz. A política brasileira acrescentou o terceiro elemento: visibilidade. Aqui, governar virou competir por atenção. Se o mérito se mede pelo holofote, delegar é suicídio. Reconhecer o time é viver sob ameaça. Escutar a equipe é renunciar ao personagem. Organizações públicas, então, passam a ser avaliadas não por entregas, mas por enquadramentos fotográficos.
A consequência é previsível. Quando trabalhar deixa de ser fonte de realização e vira combustível para o ego alheio, a motivação evapora. Equipes se retraem. Ideias morrem na gaveta. O gestor se cerca de bajuladores. Criticar vira gesto de coragem, não de colaboração. O clima organizacional assume a temperatura de um culto religioso: fervor na superfície, silêncio dentro dos bastidores. E o contribuinte paga o dízimo.
Essa vaidade não é defeito humano. É política pública: só que da pior espécie. Ela reconfigura prioridades. A cada troca de comando, tudo o que existia antes precisa ser rebatizado, repintado, reinaugurado, reidentificado. Não porque estava errado, mas porque veio com o nome de outro. A impessoalidade republicana vira ficção. O Estado deixa de ser projeto coletivo e passa a ser passarela de personalidades.
Existe um paradoxo incômodo nessa engrenagem. O líder vaidoso parece forte porque ocupa todo o espaço. Mas é frágil porque depende dele. Vive sequestrado pelo personagem que inventou. Precisa de aplauso para existir, de inimigos para justificar suas falhas, de plateia para acreditar em si. Ele não lidera: administra sua própria insegurança com orçamento público. Seu combustível não é visão, é aprovação.
E nada custa mais caro do que isso.
Nosso problema não é a ausência de liderança. É o excesso de protagonistas. A gestão pública brasileira patina não porque faltem técnicos, servidores e políticas, mas porque sobram personagens em busca de palco. Enquanto tratarmos ego como energia individual e não como custo institucional, seguiremos financiando o servidor mais caro do país, aquele que nunca aparece no Portal da Transparência, mas assina mentalmente todas as obras, todas as ideias e todas as vitórias.
O nome dele? Eu, Eu, Eu.
Encerro citando um intelectual de altíssimo QI: “Como foi bom eu ter aparecido nessa minha vida já um tanto sofrida. Já não sabia mais o que fazer pra eu gostar de mim, me aceitar assim. Eu que queria tanto ter alguém, agora eu sei sem mim eu não sou ninguém. Longe de mim nada mais faz sentido, pra toda vida eu quero estar comigo. Eu me amo, eu me amo. Não posso mais viver sem mim.” MOREIRA, Roger Rocha. Eu me amo. In: ULTRAJE A RIGOR. Nós vamos invadir sua praia. São Paulo: WEA, 1985. 1 LP, faixa 9.