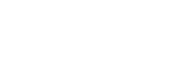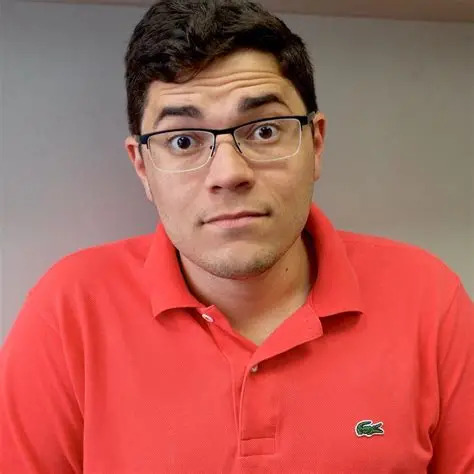
Preciso confessar: sou um anglófilo assumido. O fuso horário zero muito me apetece. Na minha última visita a Londres fiz um passeio turístico pelo Palácio de Westminster. Em certo ponto, o áudio-guia mostrou partes do Parlamento marcadas pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial e citou uma frase de Winston Churchill. Contava que Churchill fez questão de deixar à vista aquelas cicatrizes da guerra, declarando: “Nós moldamos nossos prédios, e depois nossos prédios nos moldam.” Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça.
Eu tomo essa declaração de Churchill para fazer uma analogia com campanhas eleitorais. Nos últimos dias, estou numa turnê de divulgação do meu recém-lançado livro Cabeça de Candidato. Aliás, agradeço demais pela incrível recepção: chegamos a ocupar o primeiro lugar em vendas na categoria de Política da Amazon, nem acreditei!
Nesse processo de lançamento, dei várias entrevistas, e me fizeram muitas perguntas sobre como determinado candidato deve se portar e por que cada campanha funciona de tal jeito. Isso me inspirou a responder no espírito da frase do Churchill: os políticos fazem as regras eleitorais, e as regras eleitorais fazem os políticos. Ou seja, as regras do jogo político moldam quem vence e como se comportam os candidatos, do mesmo jeito que os políticos (quando estão no poder) criam as regras do jogo.
Por exemplo, o sistema eleitoral que usamos no Brasil para eleger deputados e vereadores é o proporcional de lista aberta. Ele é desenhado para fortalecer os partidos políticos. Funciona basicamente assim: os votos em todos os candidatos de um partido são somados; se o partido alcança um determinado quociente de votos, ganha uma cadeira; depois as cadeiras desse partido são preenchidas pelos candidatos mais votados da legenda. Há uma inteligência por trás desse modelo: ninguém “desperdiça” voto. Pense no caso do deputado Nikolas Ferreira, que obteve aquele caminhão de votos (quase 1,5 milhão) na última eleição.
Em um sistema majoritário puro (o famoso distritão, em que seriam eleitos apenas os indivíduos mais votados no geral) depois que Nikolas atingisse os votos para se eleger, todos os excedentes seriam descartados. Já no sistema proporcional, esses votos “a mais” serviram para eleger outros candidatos do partido dele (PL). Ou seja, os eleitores de Nikolas, que claramente queriam votar em alguém do mesmo campo ideológico que ele, acabaram ajudando a eleger colegas de chapa com bem menos votos. Faz sentido dentro da lógica de voto na legenda: você vota em um nome, mas está apoiando um partido, e os votos em excesso do twink mais bem votado da história não são jogados fora, trazendo junto aliados dele.
Até aí, parece justo. Então qual é o problema? O problema aparece quando esse modelo bonito na teoria opera numa realidade em que os partidos não são coesos ideologicamente ou programaticamente. O sistema proporcional de lista aberta presume partidos fortes e unidos, mas o eleitor brasileiro em geral não liga muito para siglas, e muitos partidos abrigam políticos de estilos e ideias completamente diferentes na mesma chapa.
Na ciência política, fala-se que no Brasil praticamente só um partido funciona de fato como organização programática consolidada: o PT, que tem vida interna democrática e uma identidade ideológica clara. Podemos citar também o atual PL, que é coeso ao menos no sentido de ser um agrupamento bolsonarista, embora partidariamente funcione mais como uma máquina controlada por Valdemar Costa Neto do que como agremiação orgânica. A questão é que, em um cenário ideal de listas partidárias homogêneas, o resultado do sistema proporcional seria bem representativo, como no exemplo de Nikolas e do PL, em que os eleitores bolsonaristas ficaram satisfeitos porque elegeram “gente do mesmo time”. Só que, quando a lista do partido tem bichos muito diferentes entre si, o eleitor pode acabar elegendo, sem querer, alguém de um perfil totalmente distinto daquele em quem votou. Essa disfunção obviamente mina a confiança no sistema.
Confesso que não sou entusiasta do nosso modelo atual de lista aberta. Se me perguntarem, gosto bem mais do modelo alemão, que combina voto distrital e voto proporcional. No sistema alemão, você vota duas vezes: uma no candidato do seu distrito (como num distrital normal) e outra em uma lista partidária para o parlamento. Parte das cadeiras do parlamento vai para os candidatos eleitos diretamente em cada distrito, e a outra parte é preenchida de modo a corrigir distorções e garantir que o total de representantes de cada partido fique proporcional à porcentagem de votos que aquele partido teve no país inteiro.
Assim, cada região tem seu representante local (o que aproxima o eleito do eleitor: você sabe quem é o deputado da sua cidade ou bairro) mas, ao mesmo tempo, evita-se a injustiça de um partido com, digamos, 49% dos votos ficar sem nenhuma cadeira por não ter sido primeiro lugar em nenhum distrito. No modelo alemão, se um partido recebeu 10% dos votos nacionais, ele acaba com cerca de 10% das cadeiras no parlamento, mesmo que não tenha vencido em nenhum distrito no voto distrital. Para viabilizar isso, o tamanho total do parlamento é variável: criam-se cadeiras extras sempre que necessário para ajustar a proporção. Em resumo, é um sistema que mistura o melhor dos dois mundos e corrige os desequilíbrios mais extremos.
Enquanto os partidos brasileiros continuarem tão fragmentados e pouco orgânicos como hoje, admito que até um distrital simples talvez produzisse resultados mais compreensíveis do que o nosso proporcional de lista aberta: pelo menos no distrital o eleitor sabe exatamente quem elegeu e a quem cobrar. Mas ainda tenho esperança de que possamos salvar o sistema atual através do fortalecimento partidário. A introdução da cláusula de barreira, que vem aumentando gradualmente a exigência de desempenho eleitoral mínimo para um partido ter representação e acesso aos recursos públicos, já está diminuindo o número de legendas nanicas no país. A tendência é que, num futuro próximo, sobrem menos partidos no Congresso. E com menos partidos, teoricamente cada um fica mais coerente internamente e mais identificável para o eleitor. Se isso acontecer, aí sim o sistema proporcional de lista aberta poderá funcionar como pretendido, valorizando os programas partidários e permitindo que o voto em um candidato ajude a eleger outros semelhantes.
Passemos agora para as eleições majoritárias de dois turnos, caso de cargos como presidente da República, governador e prefeitos das maiores cidades. A regra aqui é simples: ganha quem obtiver a maioria dos votos válidos, com segundo turno se ninguém alcançar mais da metade na primeira votação. Essa regra, em teoria, serve para evitar extremos e garantir legitimidade, já que o eleito precisa ter mais de 50% dos votos no final. O efeito prático é eliminar os outliers muito rejeitados: você até pode ter um candidato “diferentão” liderando no primeiro turno com 30% dos votos, mas se 70% do eleitorado o detesta, no segundo turno todos os outros se unirão contra ele e ele perderá. Ou seja, o sistema tende a favorecer a moderação, ou pelo menos exige que se construam alianças mais amplas para vencer na rodada final.
Na prática, porém, nossas eleições majoritárias recentes têm sido marcadas por uma polarização feroz. Ficamos quase presos numa dinâmica de “nós contra eles” dominando o segundo turno. Uma pesquisa do professor Pablo Ortellado em parceria com a Quaest indicou que 54% dos brasileiros hoje não se identificam nem com o lulismo nem com o bolsonarismo. Não é aquele papo furado de “cansados da polarização”: eles estão na verdade tristes, desiludidos e de saco cheio é de tudo. Bad vibes total. Mesmo assim, essas pessoas acabam tendo que escolher um dos dois lados no segundo turno, porque faltou até agora uma alternativa viável que unisse esse campo do meio.
Os dois polos mais extremos, embora minoritários no eleitorado, continuam garantindo cerca de 20% a 30% cada um e assim monopolizando as vagas no segundo turno, enquanto o meio do eleitorado permanece disperso, sem coesão em torno de um projeto comum. Isso mostra uma oportunidade para novas lideranças: quem conseguir ler esses anseios e aglutinar aqueles 54% de desiludidos com a polarização pode quebrar o padrão. O problema é que o chamado centro político brasileiro anda bem apático e sem rumo. E sejamos sinceros: o eleitorado, mesmo o mais moderado, quer se apaixonar por algo. Não dá para aparecer com um discurso estilo “vamos fazer ajuste fiscal e paciência se muita gente ficar com fome” e achar que isso vai conquistar corações em nome da responsabilidade centrista. Falta um pouco de coragem e energia ao nosso centro político para dialogar de verdade com a população.
Exemplos práticos não faltam. Em 2022, goste-se ou não, a maioria do eleitorado decidiu que a prioridade número um era tirar o presidente Jair Bolsonaro do poder, mesmo que para isso fosse preciso engolir Lula de volta. E assim foi: a estratégia de unir quase todo mundo em torno do candidato capaz de derrotar Bolsonaro funcionou, e Lula acabou eleito no segundo turno.
Em Belo Horizonte, quando o prefeito Fuad Noman teve que disputar sua permanência na prefeitura, usou uma tática semelhante. Ele se apresentou ao eleitor dizendo, em outras palavras: “Galera, vota no suspensório aqui porque eu sou quem consegue ganhar do candidato bolsonarista; já estou prefeitando, tenho chance real, vamos evitar arriscar”. E deu certo: uniu desde a centro-esquerda até setores conservadores não-bolsonaristas em torno do nome do escritor do famoso livro “Cobiça” para barrar o postulante que era entendido como radical.
Contou com todo o apoio político e econômico disponível (faz parte do jogo) e venceu. Essa é uma estratégia legítima dentro das regras atuais e do clima de polarização: formar uma frente ampla para impedir a vitória de um extremo rejeitado pela maioria. Para o governo de Minas, o negócio está engraçado: tem três podendo ser o candidato da “direitona”, sendo que um só ganha se arrancar a candidatura do outro. Enquanto isso, todo o resto do eleitorado está esquecido no churrasco: toda hora tentam tirar algum da cartola, mas um prefere ir para o Supremo, outro não sabe se casa ou se compra uma bicicleta… e tem um que está inelegível. Foda passar por isso.
Essa lógica toda, porém, só é necessária em sistemas como o nosso, de dois turnos. Em lugares onde se adota o voto preferencial (o famoso Ranked Choice Voting), a tática do “voto útil do medo” perde muita força. No voto preferencial, o eleitor não escolhe apenas um candidato, mas ordena os candidatos em sua sequência de preferência (1º, 2º, 3º etc.). Se ninguém obtém maioria na contagem inicial, elimina-se o último colocado e redistribuem-se os votos dele para as segundas opções marcadas nessas cédulas; e assim sucessivamente até alguém atingir 50%.
O importante é: você pode votar sinceramente no seu candidato favorito sem “jogar seu voto fora”, porque se ele não for bem, seu voto migrará para sua segunda preferência, e assim por diante. Além disso, você deixa claro quem você não quer de jeito nenhum no poder simplesmente não o colocando em nenhuma posição na sua lista. Recentemente, tivemos um exemplo ilustrativo nas primárias democratas para prefeito de Nova York: o deputado estadual Zohran Mamdani venceu a indicação derrotando o ex-governador Andrew Cuomo graças à dinâmica do voto preferencial: houve até uma campanha do tipo “não rankeie o Cuomo em hipótese alguma”, incentivando os eleitores a excluí-lo de todas as posições na lista para impedir que ele tivesse chance. Num sistema assim, sairíamos daquela armadilha da polarização pelo “mal menor”. Não teria Fuad em Nova York, embora talvez o substituto qualquer dia arrume uma desculpa bacana demais pra passear lá. Ou em 2022, o eleitor poderia, por exemplo, ter marcado o Ciro como 1ª opção e a Tebet como 2ª, deixando Lula e Bolsonaro por último (ou nem os listando). Se muita gente fizesse isso, um candidato de centro poderia emergir com as transferências de voto. O “voto útil” só precisaria acontecer na forma das segundas escolhas, não sufocando a vontade real do eleitor já no primeiro turno. Em suma, o voto preferencial permite que você vote com o coração sem ter medo de, com isso, acabar elegendo sem querer aquilo que você mais teme.
Por falar em medo, vale mencionar um sistema ainda mais cruel em termos de representatividade: a eleição majoritária de turno único, de pluralidade. É o modelo adotado para prefeitos em cidades com menos de 200 mil habitantes (e equivalente ao first-past-the-post dos britânicos). Nele, ganha quem tiver mais votos, mesmo que seja, por exemplo, 30% contra outros candidatos com 25%, 20% etc. Ou seja, você pode ter um eleito que foi rejeitado por 70% dos votantes, mas venceu porque os 70% se dispersaram entre várias alternativas. Isso muda completamente a forma de fazer campanha: em vez de buscar apoio majoritário, o candidato pode vencer apostando num nicho fiel de uns 30% e contando com a fragmentação dos oponentes. Eu costumo brincar que, na eleição proporcional, se você tiver apenas 2% dos votos e 90% da população te odiar, você está eleito (afinal, seus 2% podem bastar para atingir o quociente). Já numa eleição de majoritária dois turnos, se 90% te odeia, esquece: não há vaga pra você. São lógicas bem diferentes de competição.
Por fim, vamos entrar na disputa mais peculiar, e arrisco dizer a mais tensa, que vem por aí: a eleição para o Senado, em que cada estado terá duas vagas em jogo simultaneamente. Nesse pleito, cada eleitor pode votar em dois candidatos, e os dois mais votados (isto é, aqueles com as maiores fatias de voto) levam as cadeiras, sem segundo turno. Traduzindo: podem vencer, por exemplo, dois candidatos com cerca de 30% dos votos cada, mesmo que nenhum deles seja a preferência da maioria absoluta do estado.
Minha aposta é que, em muitos lugares, veremos uma lavada bolsonarista nesse sistema. Explico: os eleitores bolsonaristas são muito coesos e disciplinados: tendem a votar “fechado” nos dois nomes do seu campo político (dão o famoso voto duplo nos aliados). Além disso, mulher… Tem outra coisa… Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar, e quando eu ficava assistindo grupo focal à noite, no último ciclo eleitoral, por outro lado, ninguém fazia ideia de pra que diabos servia um senador. Era um esforço danado pra produzir pauta pra campanha. Hoje a galera tem na ponta da língua que é o Senado que pode destronar o Xandão.
Ou seja: a turma do mito vai com tudo, como se fosse um plebiscito pela proibição da calvície na corte constitucional. Já os eleitores anti-bolsonaristas se dividem entre várias opções de centro, esquerda, etc. Com duas vagas em aberto, essa divisão pode ser desastrosa para quem se dispersa. Imaginem a situação: os apoiadores do Bolsonaro votam todos no 222 e no 100. Enquanto isso, os demais eleitores repartem seus dois votos entre o 300, o 111, o 500, o 133, o 400 ou o 555 “do outro lado”. No final, é bem possível que os dois bolsonaristas fiquem à frente com seus ~30% cada um e levem as duas cadeiras mesmo representando, individualmente, apenas um terço do eleitorado.
Uma possível saída para evitar esse cenário seria uma articulação prévia do campo adversário para lançar no máximo dois nomes contra os bolsonaristas em cada estado. Em tese, se toda a centro-esquerda e o centro democrático se unissem em torno de apenas duas candidaturas, poderiam concentrar os votos o suficiente para garantir pelo menos uma das vagas, talvez até as duas. Na prática, porém, essa união é rara. Aqui em Minas Gerais já vemos que não vai acontecer, com Áurea Carolina queimando a largada e ventilando que pretende concorrer. Com isso, o campo não-bolsonarista vai rachando em múltiplas candidaturas. Ou seja, caminho aberto para entregar as duas vagas do Senado à direita, ironicamente mesmo onde os eleitores anti-bolsonaristas somados são maioria. Coitada da candidata.
“E se a gente lançasse só um candidato do nosso lado, para tentar salvar pelo menos uma vaga?”, alguém pode perguntar. Aí caímos na armadilha que pegou a ex-presidente Dilma Rousseff aqui em Minas, em 2018. Naquela eleição para duas vagas no Senado, o campo petista concentrou todas as fichas na Dilma, sem um segundo nome aliado competitivo. Ela até teve uma votação bem expressiva (mais de 15% do eleitorado total, cerca de 3,6 milhões de votos), mas não levou porque não foi segundo voto de quase ninguém. Muita gente votou “Dilma e Carlos Viana” ou “Dilma e Rodrigo Pacheco”.
Ou seja o eleitor que queria saudar a mandioca deu seu primeiro voto para a Dilma e o segundo ele entregou a candidatos de outros espectros, acabando por empurrar esses outros acima dela na classificação final. Numa eleição de duas vagas, se você lança só um candidato no seu campo, o próprio eleitorado pode, involuntariamente, te derrubar ao usar o segundo voto em adversários. O ideal, portanto, é apresentar sempre dois nomes em aliança, de forma que quem vota em um tenha o outro como opção natural para o segundo voto. Mas sabemos que essa coordenação é dificílima. Os ilustres Alexandre Silveira e Marcelo Aro, por exemplo, foram candidatos ao Senado na eleição passada (de voto único) e tudo indica que serão novamente agora (de dois votos). Eles sabem que terão de fazer campanhas completamente diferentes numa situação e na outra. Em 2018, o cara podia focar só em si; na próxima, se vier sozinho, corre o risco de ser “atropelado” pelo segundo voto dos próprios eleitores. É uma engenharia eleitoral bem mais complexa do que parece.
Outra coisa que me recordo do Palácio de Westminster: lá no Reino Unido também existem duas casas legislativas: a Câmara dos Comuns (eleita pelo povo, equivalente à nossa Câmara dos Deputados) e a Câmara dos Lordes (não eleita, composta por nobres, líderes religiosos e pessoas indicadas vitaliciamente, como acadêmicos ou cientistas). Muita gente compara a Câmara dos Lordes britânica ao nosso Senado, mas essa comparação é torta. A Câmara dos Lordes não tem o mesmo poder que a dos Comuns: na verdade, os lordes não podem vetar permanentemente um projeto de lei aprovado pelos comuns, podem no máximo atrasá-lo por um tempo.
Entende-se por lá que a Câmara dos Lordes é um espaço para especialistas contribuírem com revisões e debates qualificados, e não exatamente para representar o povo ou os entes federativos. Não é bem um “Senado” no sentido americano ou brasileiro. Arrisco dizer que, de certo modo, o órgão brasileiro que mais se aproxima da função da Câmara dos Lordes seja o Tribunal de Contas. Aposto que meu caro professor Antonio Anastasia, hoje ministro do TCU, teria todo o perfil para ser um peer na Câmara dos Lordes em Westminster. Mas duvido que qualquer lorde inglês seja tão bom de resenha quanto o Agostinho Patrus ou o Alencar da Silveira Jr. Nesse quesito, acho que estamos ganhando.