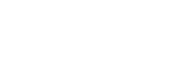Ao mostrar que a população negra enfrenta os deslocamentos mais longos, tarifas proporcionalmente mais caras e maior vulnerabilidade no trânsito, Araújo conecta infraestrutura precária, racismo estrutural e exclusão social. A análise revela que o tempo perdido no transporte não é apenas um problema logístico, mas uma violência silenciosa que afeta oportunidades, renda e qualidade de vida, especialmente para mulheres negras. Ao comparar a realidade brasileira com contextos internacionais, o autor reforça que a segregação espacial e a ausência de políticas públicas equitativas têm alcance global. Sua defesa de metas claras de mobilidade, tarifas sociais e investimentos prioritários em periferias ressalta que discutir transporte é, em essência, discutir cidadania, justiça social e reparação histórica.
Nos grandes centros urbanos, mover-se não é apenas uma questão de deslocamento. É também um marcador de desigualdade, um reflexo das distâncias sociais que se expressam nas ruas, nas calçadas e nos ônibus lotados. No Brasil, o direito de ir e vir tem cor, classe e endereço, e essa realidade expõe um racismo estrutural que se repete, em diferentes nuances, em cidades ao redor do mundo.
Periferias distantes, pontos de ônibus sem abrigo e calçadas quebradas não são apenas descuido urbano: são expressões de um modelo de cidade que empurra para as margens aqueles que mais dependem do transporte coletivo. No caso da população negra, essa lógica é ainda mais perversa. Pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostram que pretos e pardos estão mais expostos a deslocamentos longos, a tarifas mais pesadas em relação à renda e a riscos maiores no trânsito. Entre 2011 e 2021, os registros de mortes de pedestres e ciclistas, sobretudo em áreas periféricas, permaneceram elevados, atingindo de forma desproporcional homens e mulheres negros.
Essa desigualdade não é casual. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que os bairros com maioria negra carecem de infraestrutura básica: iluminação pública, saneamento, calçadas contínuas e oferta regular de ônibus. O resultado são jornadas casa–trabalho mais longas, ambientes mais inseguros para caminhar e uma sensação cotidiana de exclusão. Cada hora a mais dentro de um ônibus lotado significa uma hora a menos de convivência familiar, de descanso ou de estudo. É uma violência silenciosa, que mina as oportunidades e encurta horizontes.
As mulheres negras sentem de forma ainda mais dura esse fardo. Acumulando funções domésticas e cuidados familiares, elas realizam o que especialistas chamam de “viagens em cadeia” — deslocamentos que incluem levar os filhos à escola, passar no posto de saúde, ir ao trabalho e parar no mercado. Dependentes de transportes que funcionem fora dos horários de pico, enfrentam justamente a precariedade nesse período. Esse desenho da mobilidade reforça desigualdades de gênero e raça, limitando ainda mais o acesso ao emprego e à renda.
A realidade brasileira ecoa em outras partes do mundo. Nos Estados Unidos, um relatório da Associação Governadores pela Segurança nas Estradas (GHSA) mostrou que mais de 7 mil pedestres morreram em 2023, com maior incidência entre pessoas não brancas. Pesquisas federais apontam que bairros habitados majoritariamente por negros e latinos são os mais perigosos para pedestres, em razão da ausência de calçadas adequadas, da má iluminação e da negligência nos investimentos públicos. O mesmo ocorre em países africanos, onde a expansão urbana desordenada empurra trabalhadores para periferias distantes, sem transporte público eficiente, e em cidades europeias, onde imigrantes e refugiados vivem em áreas menos atendidas por serviços de mobilidade.
O que se desenha, em escala global, é a geografia do privilégio. Enquanto alguns se deslocam em minutos por linhas de metrô modernas, outros enfrentam jornadas de horas em ônibus velhos e irregulares. Quem mora longe paga duas vezes: no bolso, com tarifas pesadas, e no tempo de vida, desperdiçado em trajetos intermináveis. No Brasil, a tarifa é proporcionalmente mais cara para os mais pobres, e a oferta de transporte se reduz exatamente onde está a maioria negra. A cidade, nesse contexto, não é espaço de encontro, mas de exclusão.
Os caminhos para enfrentar essa desigualdade são conhecidos e já foram defendidos por especialistas em mobilidade e direitos urbanos. Entre eles estão a criação de metas claras de acesso a empregos e serviços em até 60 minutos de transporte público; investimentos prioritários em infraestrutura nos bairros periféricos; ampliação das redes integradas de ônibus, trens e metrôs; tarifas sociais; e políticas de segurança viária que reduzam velocidades em áreas de maior circulação de pedestres. Além disso, é fundamental inverter a lógica dos investimentos que privilegiam obras viárias para automóveis enquanto milhões dependem de transportes coletivos precários.
Discutir mobilidade é também discutir justiça social e racial. É reconhecer que o tempo gasto em deslocamento é um indicador de cidadania. Mobilidade é política de reparação quando corrige desigualdades históricas, é política econômica quando aproxima trabalhadores das oportunidades e é política de saúde quando reduz mortes no trânsito e a exposição à poluição. O direito de ir e vir precisa deixar de ser privilégio e se consolidar como política pública universal.
O debate não pode ser neutro. Se a rua é espaço de convivência, ela também revela quem tem direito de circular nela. Democratizar a mobilidade exige que governos reconheçam o peso do racismo estrutural e adotem ações afirmativas no planejamento urbano, garantindo participação social nas decisões e monitorando, com dados públicos, os impactos das políticas implementadas.
As cidades só serão justas quando o tempo de deslocamento não depender da cor da pele ou do CEP. Não se trata apenas de ônibus e metrôs, mas de futuro. A forma como nos movemos revela a forma como escolhemos conviver.
Assino este artigo como ex-Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, convicto de que ruas mais justas salvam vidas, aproximam oportunidades e ampliam horizontes. O caminho está posto; cabe às políticas públicas escolher que cidade queremos construir.